Margot é um filme que nos coloca diante do valor da investigação histórica e antropológica, ao mesmo tempo que convoca o espaço próprio do investigador. No caso, o foco na pianista e etnomusicóloga alemã Margot Dias (1909-2001), depois de trocar uma vida burguesa na Alemanha pela cultura e expressão artística da minoria étnica moçambicana maconde. Isto, entre os anos de 1958 e 1961, no topo norte de Moçambique (hoje território assaltado pela violência), em pleno apogeu colonial. Margot é assim o resultado onde a antropóloga e premiada documentarista Catarina Alves Costa – que realizou uma vintena de documentários entre 1992 e 2019 – encontrou igualmente o seu espaço.
“O que eu faço é uma tentativa de reconstituição de um processo de memória”, sublinha na nossa entrevista a também docente na universidade Nova de Lisboa. “No entanto, esta é uma memória que não é minha. Ou seja, projecto a minha memória numa memória mais antiga”. Sim, por aqui estabelece-se um diálogo de gerações, mas também um encontro de metodologias de trabalho.
O estudo, esse, foi iniciado há mais de 20 anos, quando Catarina estava ainda ligada ao museu de etnologia – tinha ela 29 anos (já depois do seu primeiro filme, Regresso à Terra, de 1992) e Margot Dias 88. Até chegar a este resultado final, o trabalho contemplou vários momentos de análise e edição das muitas horas de gravação dos 28 filmes contidos no acervo Margot Dias: Filmes Etnográficos (1958-1961), recuperados e editados (também em DVD) em 2016 pela Cinemateca. Além disso, passou a fazer sentido encarar o arquivo do passado de Margot, desde a sua infância, além de uma viagem a Moçambique onde Catarina Alves Costa captou algumas das imagens que agora vemos. Ou seja, um trabalho que se estende ao longo de mais de um século.

É fascinante o percurso de uma mulher que, à beira de fazer 50 anos, participa em 4 missões em África, dirigidas pelo marido, o (investigador, antropólogo) Jorge Dias, captando imagens, gravando sons e muita informação sobre a cultura maconde e os seus instrumentos musicais. Aliás, um trabalho apenas concretizado graças à sua determinação, pois o marido não apoiava a sua intenção de entrar na missão. “Toda a gente julgava que as mulheres vão para coser as meias e cozinhar”, recorda no filme, sublinhando que foi Adriano Moreira (1922-2022) quem acabou por convencer o marido.
Apesar das diferenças, Catarina recorda que esteve frequentemente “numa posição semelhante à que Margot teve nos Maconde, em que ia com uma câmara na mão à procura das imagens”. Aliás, quando pensa na Margot sente que ela acaba por ser um pouco “um alter ego”. Na verdade, como sublinha “o filme é muito isso, um balanço meu, do impacto que têm em nós o encontro com as pessoas que filmamos. Ou seja, o impacto que tiveram os maconde nela, e o impacto que ela teve em mim, quando eu era jovem; mas também o impacto que os maconde tiveram hoje em mim também quando fui a Moçambique. Então, são esses encontros, as várias camadas de encontros.”
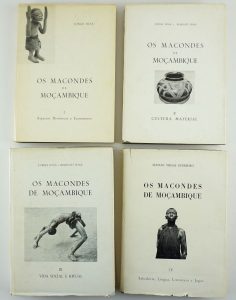
Um dos principais objectos de estudo foi o livro Macondes de Moçambique (dois volumes), assinado por Jorge e Margot Dias, incorporando uma análise profunda sobre instrumentos musicais de Moçambique. Bem como os inúmeros filmes etnográficos que Margot filmou num estilo próximo do ‘cinema verdade’ de Jean Rouch (1917-2004). “Comecei por ver nestes filmes um Atlas, um sistema de pensamento. Um arquivo”. Em suma, um desejo de fixar uma vertigem de guardar um fragmento do mundo.
De certa forma, prolongando o trabalho notável que fizera com o estudo sobre o cineasta António Campos (1922-1999), intitulado Falamos de António Campos (2017), recuperado recentemente no Custas de Vila do Conde, “em que eu tinha os filmes do Campos num leitorzinho de DVD portátil. Basicamente, eu levava as imagens do Campos e ia falar com as pessoas que tinham trabalhado com ele há 50, 60 anos atrás.“
Passa por aqui um resgate da identidade de Margot Dias, mas também um elo musical em que a música africana substitui a herança de cultura clássica europeia. Compensado até pelo desejo desta mulher com curiosidade pelo outro fugir aos mundos burgueses. Num dos registos mais emotivos do filme, Margot comove-se ao recordar, em 1961, quando uma mulher (Tumechana) lhe faz uma pulseira de barro que coloca no pulso dela. Por este gesto percebe que fora aceite na comunidade deles.

“Estúpida!”, queixa-se Margot, aos quase 90 anos, ao ser traída pelo soluço da emoção. Mas é precisamente esse potencial da memória que recebe também hoje o elogio do jovem escultor maconde que encontrou no estudo de Margot uma forma de “compreender o passado, mas também ver para a frente”.
Não será precisamente esse “ver para a frente” que sublinha o valor da memória e da passagem do testemunho da investigação cultural? Ou seja, algo que passa a fazer parte de nós. “Eu sinto que me pus bastante dentro do filme”, confessa-nos Catarina Alves Costa. “Tentei que as pessoas percebessem que não é só a história dela, que é também uma história que estou a contar sobre mim própria. A Margot é, para mim, uma espécie de inspiração do que pode constituir a nossa vida. Acho isso muito inspirador.” Nem mais. É mesmo isso que permite que a história continue.
Margot pode ser visto no Porto/post/doc, Passos Manuel, dia 23, às 16h00.


